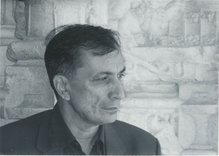UM GRÃO DE POESIA NAS DUNAS DA MPB
por Mônica Sinelli
Entre os insondáveis caminhos que atravessam o erudito e o pop, ele prefere todos. Por transpor sem preconceitos possíveis distâncias que interditariam a coexistência nos dois mundos, Antonio Cicero – verbete do Dicionário Cravo Albin – tem descrito uma trajetória singular nos meios intelectuais e artísticos brasileiros. E timbrado sua grife inconfundível em versos que respiram ares cosmopolitas. Mas, que, em especial, acendem, apaixonadamente, os crepúsculos do Rio de Janeiro.
Carioca do Leblon, o poeta e filósofo Antonio Cicero – filho dos piauienses Ewaldo e Amélia Correia Lima –, nascido a 6 de outubro de 1945, cedo aciona a sintonia fina de percepção da cidade, que mais tarde se tornará musa de tantos poemas. “Eu a via com olhos curiosos; às vezes, felizes, às vezes, não. Minhas primeiras memórias têm a ver com o Jardim de Alah e a praia. Aos 5 anos, me mudei da Avenida Afrânio de Melo Franco, esquina com a Ataulfo de Paiva, para a Bartolomeu Mitre. Brincava na Praça Antero de Quental e estudava no Colégio Santo Agostinho. Com 10 anos, minha família se mudou para a avenida Vieira Souto, em Ipanema".
 |
| Com os pais, na praia do Leblon, na década de 50 |
Adolescente, Cicero começa a escrever tanto em prosa quanto em verso. Em 1960, seu pai vai trabalhar em Washington, nos EUA, levando toda a família. Cícero faz o high school lá. Ao regressar, começa a cursar filosofia na PUC do Rio de Janeiro e, depois, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Em 1969, devido a problemas políticos, vai para Londres, onde se forma em filosofia pela Universidade de Londres. Em 1972, na volta de uma Inglaterra em ebulição, encontra sua cidade igualmente imersa na esteira fervilhante da contracultura. “A ditadura continuava, mas havia bem mais liberdade sexual e comportamental entre os jovens. Lembro-me, por exemplo, de pontos de encontro como o Posto 9, o Dancing Days, as dunas da Gal, o Baixo Leblon, a peça “Trate-me Leão”. E de pessoas: Waly Salomão, Lenny Dale e os Dzi Croquetes, a chegada de Gabeira. Foi muito interessante a década de 70 no Rio”, avalia.
Em 1976, Cicero vai fazer pós-graduação nos Estados Unidos, onde estuda grego e latim, o que lhe permitirá ler no original clássicos como Homero, Píndaro, Horácio e Ovídio.
 |
| Em 1963 |
Entre seus poemas até então guardados na gaveta, sua irmã Marina – que, com ele, irá impactar a cena musical brasileira por meio de um estilo personalíssimo – pesca, às escondidas, em 1976, “Alma caiada”, criando a canção que no ano seguinte Maria Bethânia chegaria a gravar. Vetada pela censura, ganharia registro, dois anos depois, por Zizi Possi:
Aprendi desde criança
que é melhor me calar
e dançar conforme a dança
do que jamais ousar.
Mas às vezes pressinto
que não me enquadro na lei:
Minto sobre o que sinto
e esqueço tudo o que sei.
Só comigo ouso lutar:
Sem me poder vencer,
tento afogar no mar
o fogo em que quero arder.
De dia caio minh’alma.
Só à noite caio em mim:
por isso me falta calma
e vivo inquieto assim.
O primeiro disco de Marina Lima, “Simples como fogo” (1979), vem com “Transas de amor” (Os sonhos de quem ama não cabem só na cama), sucesso inaugural entre tantos que se sucederão da dupla. Nesse LP, a canção “Tão fácil” já anuncia que o Leblon é um deserto para um coração incerto. E Memória fora de hora expõe:
Meu amor mora lá no Rio
Rio para o amor
Cidade entre morro e mar
E mar e morro
de saudade.
 |
| Com Marina e saxofonista Leo Gandelman, produtor do disco "Virgem", quando este ganhou o Disco de Ouro. |
Dali em diante, Antonio Cicero não só assinará com Marina uma das mais bonitas trilhas da música brasileira, mas amplificará seu refinamento estético em composições ao lado de outros parceiros, como Orlando Morais na plangente “Logrador”, interpretada por Bethânia:
Você habita o próprio centro
De um coração que já foi meu
Por dentro torço pra que dentro
em pouco lá só more eu.
Livre de todos os negócios
e vícios que advêm de amar
lá seja o centro de alguns ócios
que escolherei por cultivar.
E pra que os sócios vis do amor,
rancor, dor, ódio, solidão
não mais consumam meu vigor,
amado e amor banir-se-ão
do centro ruma a um logrador
subúrbio desse coração.
Outro parceiro é Claudio Zoli, em “À francesa”:
Meu amor, se você for embora
sabe lá o que será de mim
passeando pelo mundo afora
na cidade que não tem mais fim
ora dando bola ora fora
um irresponsável, pobre de mim.
Se lhe peço pra ficar ou não?
meu amor eu lhe juro
que não quero deixá-lo na mão
e nem sozinho no escuro
mas os momentos felizes não estão escondidos
nem no passado nem no futuro.
Certamente vai haver tristeza
algo além de um fim de tarde a mais
mas depois as luzes todas acesas
paraísos artificiais
e se você saísse à francesa
eu viajaria muito, mas muito mais.
O Rio seguirá recorrente na sua criação, a exemplo de “Inverno” (com Adriana Calcanhotto):
No dia em que fui mais feliz
eu vi um avião
se espelhar no seu olhar até sumir
de lá pra cá não sei
caminho ao longo do canal
faço longas cartas pra ninguém
e o inverno no Leblon é quase glacial.
Há algo que jamais se esclareceu:
onde foi exatamente que larguei
naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei?
Lá mesmo esqueci
que o destino
sempre me quis só
no deserto sem saudades, sem remorsos, só
sem amarras, barco embriagado ao mar
Não sei o que em mim
só quer me lembrar
que um dia o céu
reuniu-se à terra um instante por nós dois
pouco antes do ocidente se assombrar.
 |
| Com o irmão, Roberto, e a prima, Gilda |
E em Virgem:
As coisas não precisam de você:
Quem disse que eu tinha que precisar?
As luzes brilham no Vidigal
e não precisam de você;
os Dois Irmãos
também não
precisam.
O Hotel Marina quando acende
não é por nós dois
nem lembra o nosso amor.
Os inocentes do Leblon,
esses nem sabem de você
nem vão querer saber
e o farol da ilha só gira agora
por outros olhos e armadilhas:
o farol da ilha procura agora
outros olhos e armadilhas.
Também com Marina, “Este ano” tem o emblemático verso “o Rio soa como eu sou”.
MUSAS CAPRICHOSAS
“A filosofia e a composição musical são atividades opostas, mas complementares do meu espírito. Nem sempre é fácil administrar o tempo entre elas”, relata Cicero, afirmando mover-se “aos trancos e barrancos” nessa ponte. Sobre a possibilidade de interseção com os distintos elementos de um universo e do outro, observa: “A poesia é uma zona de confluência. Todo bom poema é concreto (o que não quer dizer concretista), e o concreto é a síntese de muitas determinações abstratas. Tudo influencia tudo. Minha poesia vem do acaso e do trabalho. O que chamamos de inspiração é um acaso que mexe produtivamente com nosso inconsciente e vice-versa. Não há oposição entre inspiração e trabalho. O trabalho solicita a inspiração, e a inspiração tem que ser trabalhada.”
Os estímulos, segundo ele, estão em todo lugar. “Mas numa dimensão do tempo que não é aquela – utilitária – em que passamos a maior parte da vida. É o tempo do devaneio. Só entra nele quem está totalmente disponível a `perder tempo`, sem garantia nenhuma de que as musas virão, porque elas são caprichosas. Agora, sem essa disposição, elas não vêm mesmo”, repara. Reino secreto este, que se pode contemplar em “Misteriosamente”, parceria com João Bosco e Waly Salomão:
É noite
alta e quente e não vou mais dormir
Pois uma canção insiste em surgir misteriosamente
...Gota por gota cada nota vai brotar
Algo gratuito assim
que vem só porque quer.
 |
| Com Caetano, no filme "Tabu", de Júlio Bressane. Foto de Marta Braga |
O desassombro em transitar tanto no universo erudito quanto no pop desenha um caminho solitário para Cicero como intelectual no Brasil. “Especialmente, na filosofia – reconhece. Devo ao poeta e ensaísta Antonio Medina Rodrigues o único artigo publicado pela imprensa, no ‘Estadão’, sobre meu livro de filosofia O mundo desde o fim (1995). Nada, também, divulgou-se quando saiu Finalidades sem fim (2005), meu livro de ensaios sobre poesia e arte. Creio que isso se deve a dois fatos. Primeiro, não estou ligado à academia; segundo, desenvolvi meu pensamento por mim mesmo, a partir, é claro, de um diálogo com grandes pensadores, mas sem vinculação nenhuma com as modas contemporâneas, que considero superficiais. Os professores convencionais de filosofia não sabem como lidar com meus textos.” Tal destemor para interatuar em terrenos diversos e, aparentemente, conflitantes, sem abrir mão da entrega em nenhum deles, está explícito na bela e contundente “Três”
(com Marina):
Eu quero tudo que há
O mundo e seu amor
Não quero ter que optar
Quero poder
partir
Quero poder ficar.
FEITO DE UM MUNDO IMENSO
Para Cicero, a filosofia, ao contrário da poesia, tem a pretensão de dizer verdades – verdades até absolutas. “Uma verdade absoluta é que nenhuma positividade é absoluta. Isso significa também que o absoluto é negativo; ou ainda: que a negatividade é absoluta”, acentua ele, que tem em Kant e Horácio o filósofo e o poeta maiores. “Kant é o filósofo do mundo moderno, crítico, aberto. Sobre Horácio, faço minhas as palavras de Nietzsche: Até hoje não senti em nenhum poeta o mesmo arrebatamento artístico que desde o início uma ode horaciana me deu. Em algumas línguas, não se pode sequer querer o que lá foi alcançado.”
Reflexões angustiantes aparecem em versos como os de “Dilema”, que está no CD “Antonio Cicero por Antonio Cicero”, lançado em 1996 (na coleção “Poesia Falada”, produzida por Paulinho Lima), no qual lê seus poemas:
O que muito me confunde
é que no fundo de mim estou eu
e no fundo de mim estou eu.
No fundo
sei que não sou sem fim
E sou feito de um mundo imenso
Imerso num universo
que não é feito de mim
Mas mesmo isso é controverso
Se nos versos de um poema
Perverso sai o reverso.
Disperso num tal
dilema
O certo é reconhecer:
no fundo de mim
sou sem fundo.
“A primeira vocação de um poema escrito é ser lido. E lido não para fora, mas para dentro. É claro que quem o lê tem que levar em conta o seu som. Trata-se de uma leitura aural, como diz o poeta francês Jacques Roubaut. A recitação não passa de um suplemento ao livro”, sinaliza.
Ainda naquele ano, Cicero publica “Guardar”, seu primeiro livro de poesias (Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira 1997), o que só tornará a fazer em 2002, com “A cidade e os livros”, em que o Rio de Janeiro o captura e magnetiza:
O Rio parecia inesgotável
àquele adolescente que era eu.
Sozinho entrar no ônibus Castelo,
saltar no fim da linha, andar sem medo
no centro da cidade proibida,
em meio à multidão que nem notava
que eu não lhe pertencia – e de repente,
anônimo entre anônimos, notar
eufórico que sim, que pertencia
a ela, e ela a mim –, entrar em becos
travessas, avenidas, galerias,
cinemas, livrarias: Leonardo
da Vinci Larga Rex Central Colombo
Marrecas Íris Meio-Dia Cosmos
Alfândega Cruzeiro Carioca
Marrocos Passos Civilização
Cavé Saara São José Rosário
Passeio Público Ouvidor Padrão
Vitória Lavradio Cinelândia:
lugres que antes eu nem conhecia
abriam-se em esquinas infinitas
de ruas doravante prolongáveis
por todas as cidades que existiam.
Eu só sentira algo semelhante
ao perceber que os livros dos adultos
também me interessavam: que em princípio
haviam sido escritos para mim
os livros todos. Hoje é diferente,
pois todas as cidades encolheram,
são previsíveis, dão claustrofobia
e até dariam tédio, se não fossem
os livros incontáveis que contêm.
 |
| Com a mãe, Amélia, na década de 1970 |
“Nesse poema, conto minha descoberta, quando adolescente, de que a cidade inteira estava aberta para mim; que, de certo modo, pertencia a mim. Como garoto da Zona Sul, eu rarissimamente saía da região, e nunca sozinho. Um dia descobri que podia tomar um bonde ou ônibus e andar pela cidade toda. Comecei a percorrer também o Centro a pé. Às vezes pegava uma barca e passeava em Niterói, ou um trem na Central até Cascadura, Madureira, Méier. Foi uma grande sensação de liberdade. Em “O último romântico”, que fiz com Lulu Santos e Sergio Souza, falo da importância de reunir a Zona Norte à Zona Sul.”
À polêmica discussão em torno de uma letra de música poder ou não configurar poesia, ele analisa: “Que uma letra de música pode ser poesia é inegável, pois os poemas líricos gregos, como os de Safo, Anacreonte ou Píndaro, eram letras de música, e ninguém duvida que sejam grande poesia. Um poema consiste numa síntese indecomponível de determinações semânticas, sintáticas, morfológicas, fonológicas, rítmicas. Tudo nele conta: sentidos, sons, sugestões, ecos. Quero que sejam assim os poemas que faço.” E complementa: “Não desassocio nada de nada no poema que escrevo para ser lido. Já na canção é diferente, pois não componho música, não toco instrumento, nem canto. Normalmente, recebo uma melodia e tento interpretá-la, pensando no parceiro ou em quem a cantará. E ponho palavras nela. Sendo assim, música é uma coisa e letra, outra.”
 |
| Cazuza, Waly Salomão, Antonio Cicero, no Baixo Leblon, na década de 80 |
OS TAIS CAQUINHOS
Qual a percepção do poeta hoje, depois de ter escrito a demolidora “Pra começar” (com Marina) ainda nos anos 80, em torno dos “caquinhos do velho mundo” – pátrias, famílias, religiões e preconceitos? “O que eu dizia ali é uma verdade. Mas muitos se desesperam, ao perceber que essas coisas perderam a sacralidade, e tentam colar seus caquinhos de qualquer modo, à força. Querem voltar a um passado idealizado. Não suportam a ideia de viver num mundo aberto, em que tudo está sujeito a ser criticado. Tentam fechá-lo artificialmente e, para tanto, têm que usar imensa violência. Esse é o germe do fascismo. Precisamos estar alertas a esse risco.” A visão afiada sobre o Brasil contemporâneo se evidencia em “Zona de fronteira” (com João Bosco e Waly Salomão):
Já alguns sinais estão aí
Sempre a brotar do ar
De um território que está por explodir
...Sim, bem
em cima do barril
Exato na zona de fronteira
Eu improviso o Brasil.
 |
| Com Susana de Moraes, Adriana Calcanhotto e Waly Salomão, ao autografar o CD "Antonio Cicero por Antonio Cicero", em 2004 |
Conectado a plataformas virtuais, com site e blog próprios, Cicero examina a escrita em tempos de internet. “Publico no blog textos que gostaria que muita gente lesse, meus ou os que admiro. Mas não acho que a poesia deva mudar por causa da internet. Eu a uso como um veículo de comunicação e, também, uma espécie de enciclopédia e biblioteca. Não tenho tempo para facebooks ou coisas do gênero”, descarta. Com três livros em vias de publicação – um de poemas, um sobre poesia e filosofia, além de um terceiro de ensaios –, o atual morador do bairro do Humaitá arremata: “Continuo sendo um andarilho, mas não tenho tanto tempo para flanar. Gosto de caminhar. Meu espaço favorito é o Jardim Botânico, onde uma minha tia muito querida, Maria Cândida, a Tilinha, levava-me para passear com sua filha, minha prima Marília, quando eu era garoto. Adoro Leblon, Copacabana, Lagoa, Botafogo, Niterói e, sempre, o Centro. Para mim, viver bem é ter tempo para o devaneio, ler, escrever
e pensar sem compromisso, jantar e tomar um vinho, conversando com os amigos.” Pois, então, um brinde à doce vida, poeta!
 |
| Com Marcelo Pies, em Buenos Aires |