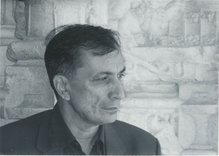Mostrando postagens com marcador Comunismo. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Comunismo. Mostrar todas as postagens
23.11.14
Bertrand Russell: Sobre a fé
Os cristãos creem que sua fé faz bem, mas outras fés fazem mal. De todo modo, pensam isso sobre a fé comunista. O que eu afirmo é que todas as fés fazem mal. Podemos definir a 'fé' como uma firme crença em algo para o qual não há prova. Quando não há prova, fala-se de 'fé'. Não falamos de ter fé de que dois mais dois sejam quatro ou de que a terra seja redonda. Falamos de fé somente quando queremos substituir a evidência pela emoção.
RUSSELL, Bertrand. "Will religious faith cure our troubles?". In:_____. Human society in ethics and politics. London: Routledge, 1992.
Labels:
Bertrand Russell,
Comunismo,
Crença,
Cristãos,
Fé
31.8.12
Pedro Bloch: de "Sem pedras no caminho"
Sem pedras no caminho
Carlos Drummond de Andrade ("o maior poeta que o Brasil já teve", na opinião de Manuel Bandeira) recebe aquele estudantezinho atrevido que, de saída, lhe pergunta, sem a menor cerimônia, já amigo de "tu":
-- Onde nasceste?
A vontade de Drummond seria responder: "Em Itabiriste". Mas contém e fica à espera. O menino, decididamente da extrema esquerda, quer que todos assumam posição no mundo de hoje. E pergunta:
-- Drummond, qual é a posição de escritor nos dias que vivemos?
Este não hesita e dispara:
-- A posição de escritor pode ser de pé, sentada ou deitada, conforme lhe resulte mais cômodo.
E, diante do espanto do menino, aconselha:
-- Menino, se você não é comunista, vá sendo logo, que é para deixar de ser depressa. Eu também já fui e deixei.
[...]
BLOCH, Pedro. "Sem pedras no caminho". Originalmente publicado na revista Manchete em junho de 1963. In: Carlos Drummond de Andrade. Org. por Larissa Pinto Alves Ribeiro. Rio de Janeiro: Azougue, 2011.
Labels:
Carlos Drummond de Andrade,
Comunismo,
Esquerda,
Pedro Bloch
31.5.11
Sobre a recente entrevista de Slavoj Zizek
É interessantíssima a entrevista que Slavoj Zizek deu ao Miguel Conde, no caderno “Prosa e Verso”, de O Globo, de sábado passado.
Ninguém ignora que Zizek já defendeu, em diversos textos, a violência e mesmo o terror, já atacou a democracia, já defendeu Stalin, (“é melhor o pior terror stalinista do que a mais liberal democracia capitalista”, diz ele em “Iraque: a chaleira emprestada”), já defendeu a revolução, já defendeu o comunismo etc.
Agora, nessa entrevista, ele explica que o que entende por “totalidade” não é bem totalidade; por “violência” não é bem violência; por “democracia” não é bem democracia; por “revolução” não é bem revolução; por “comunismo” não é bem comunismo... Parece, então, que toda a fúria dele não passava de paradoxos para “épater les bourgeois”. Melhor assim: antes um comediante que um carrasco.
Labels:
Comunismo,
Democracia,
Miguel Conde,
Revolução,
Slavoj Zizek,
Stalin,
Violência
2.5.10
A ideologia marxista hoje
O seguinte texto é uma versão um pouco mais longa do artigo que foi publicado na minha coluna da "Ilustrada", da Folha de São Paulo, no sábado, 1º de maio.
A ideologia marxista hoje
JÁ CITEI uma vez, nesta coluna, a observação do filósofo Theodor Adorno no ensaio "As Estrelas Descem à Terra" de que, ao semierudito, "a astrologia [...] oferece um atalho, reduzindo o que é complexo a uma fórmula prática e oferecendo, simultaneamente, uma agradável gratificação: o indivíduo que se sente excluído dos privilégios educacionais supõe pertencer a uma minoria que está "por dentro'". Na época, mostrei que tal descrição convém também à ideologia religiosa do apóstolo Paulo, assim como à de Martinho Lutero. Pois bem, o fato é que ela se aplica igualmente bem a ideologias seculares, tais como o marxismo vulgar.
Embora tencione dar uma chave para o entendimento do mundo, como uma religião, o marxismo, longe de se tomar como religião, considera-se inteiramente racional, declarando-se tanto filosofia quanto ciência da história e da sociedade. Isso faculta ao semierudito ter-se, do ponto de vista cognitivo, como superior também aos eruditos que, por diferentes razões, não tenham adotado a concepção marxista.
Como, além disso, essa concepção do mundo quer fundamentar uma teoria revolucionária, tendo em vista a superação do capitalismo e a instauração do comunismo, sociedade em que pretende que não haverá mais propriedade privada dos meios de produção, nem diferentes classes sociais nem os flagelos da exploração e da opressão do ser humano pelo ser humano, os marxistas, já pelo simples fato de se posicionarem a favor de tal revolução, consideram-se, a priori, superiores, também do ponto de vista ético, a todos que não o tenham feito.
Para esse modo de pensar, o mundo existente, em que domina o modo de produção capitalista, é inteiramente degradado. Nele, qualquer progresso é tido como meramente adjetivo, quando não fictício. A democracia existente -qualificada de "burguesa"- não é valorizada senão enquanto caminho para a revolução. Só esta deverá trazer um progresso real.
Hoje, porém, nem os marxistas podem pretender saber como se daria a superação do capitalismo. Não ignoro que, se questionados, certamente falariam em "socialismo". Concretamente, porém, que poderia significar para eles tal palavra?
Seu socialismo certamente nada teria a ver com a social-democracia, pois esta, sendo compatível com o capitalismo, não representaria sua superação. Tratar-se-ia então do socialismo como a estatização dos meios de produção, tal como se deu, por exemplo, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas?
Será realmente possível identificar a estatização com o socialismo, que seria a transição para o comunismo? Friedrich Engels diria que não, pois afirmava que "quanto mais forças produtivas o Estado moderno passa a possuir, quanto mais se torna um capitalista total real, tantos mais cidadãos ele explora. Os trabalhadores continuam assalariados, proletários. Longe de ser superada, a relação capitalista chega ao auge". Dado que a propriedade estatal dos meios de produção não garante a posse real deles pelos trabalhadores, ela é capaz de não passar de uma forma de capitalismo de Estado. A superação do capitalismo somente se daria quando a sociedade, aberta e diretamente, sem a intermediação do Estado, tomasse posse das forças produtivas. Note-se bem: a propriedade estatal dos meios de produção, consistindo na manifestação extrema de uma relação de produção capitalista, está longe de ser a posse social dos mesmos.
Os revolucionários russos não pensaram assim. Tomando a estatização da economia sob a ditadura do Partido Comunista, pretenso representante do proletariado, como a instauração do socialismo (que seria o primeiro passo para o comunismo), supuseram que já haviam deixado para trás o modo de produção capitalista.
O fato, porém, é que a própria extinção da URSS e o caráter selvagem e mafioso do capitalismo que hoje vigora na Russia se encarregaram de desmentir essa pretensão. Em obra recente, o marxista Alain Badiou reconhece que “sob a forma do Partido-Estado, experimentou-se uma forma inédita de Estado autoritário e mesmo terrorista, de todo modo muito separado da vida das pessoas”. E conclui: “O princípio da estatização era em si mesmo viciado e por fim ineficaz. O exercício de uma violência policial extrema e sangrenta não conseguiu salvá-lo de sua inércia burocrática interna e, na competição feroz que lhe impuseram seus adversários, não foram precisos mais de cinquenta anos para mostrar que ele jamais venceria”.
A Revolução Cultural Chinesa pode ser entendida como uma tentativa de mobilizar as massas contra o estabelecimento de uma situação semelhante, na China. Seu líder, Mao Tse-tung, chegou a dizer: “Não se sabe onde está a burguesia? Mas [nos países socialistas] ela se encontra no Partido Comunista!” Como, porém, as “massas” são necessariamente plurais, particulares, instáveis e manobráveis, o fato é que, na época moderna, qualquer “democracia direta” não pode passar de uma quimera. Não admira, portanto, que a Revolução Cultural se tenha tornado extremamente caótica e violenta, de modo que, por fim, tenha sido necessário, como diz Badiou, “restabelecer a ordem nas piores condições”. O resultado é que impera hoje na China o mais brutal capitalismo, tanto estatal quanto privado.
A verdade é portanto que, como nem a centralização, sob a égide do Partido, nem a mobilização das massas logram superar o capitalismo, não se sabe – jamais se soube realmente– como se daria tal superação.
Contudo, só a miopia ideológica impede de ver que, embora a "Revolução" se tenha revelado um beco sem saída, o mundo em que vivemos encontra-se em fluxo incessante; e que a sociedade aberta, os direitos humanos, a livre expressão do pensamento, a maximização da liberdade individual compatível com a existência da sociedade, a autonomia da arte e da ciência etc. -que constituem exigências inegociáveis da crítica, isto é, da razão- constituem também as verdadeiras condições para torná-lo melhor.
Labels:
Alain Badiou,
Capitalismo,
China,
Comunismo,
Friedrich Engels,
Mao Tsé-tung,
Socialismo,
URSS
14.4.10
José Arthur Giannotti: "Os novos bolchevistas"
O seguinte -- importante -- artigo de José Arthur Giannotti foi publicado no caderno "Mais!", da Folha de São Paulo, no domingo, 11 de abril:
Os novos bolchevistas
Para os mais jovens, vale lembrar que os bolchevistas -palavra que vem do russo significando maioria- representavam a facção majoritária que, no congresso do Partido Comunista de 1903, seguiu Lênin, contra os menchevistas, os minoritários, sociais-democratas mais moderados do que o grande líder revolucionário.
Mas interessa, neste momento, lembrar que o bolchevismo representou uma forma de prática política em que o militante adere ao partido de corpo e alma, como se aderisse a uma igreja, a uma instituição prenhe de verdade. Os velhos comunistas pediam a autorização do partido para se casarem.
E, durante os processos de Moscou, quando Stálin liquidou seus adversários, estes terminaram confessando crimes que não tinham cometido, pois pensavam o partido como a morada da verdade.
Se o comunismo desapareceu do horizonte político de hoje, se a democracia se impôs, vamos dizer assim, como valor universal, não é por isso que essa adesão emocional, e às vezes mística, a uma organização política tenha se extinguido.
É muito comum em pequenos partidos de esquerda (ou de direita), assim como em certas correntes da esquerda infiltradas nos grandes partidos. A maior surpresa, todavia, é constatar que medra no pensamento de muitos intelectuais.
Compreende-se que um militante endosse uma decisão partidária, mesmo contra sua vontade. Participou das discussões internas do partido e, tendo perdido a disputa, só lhe cabe acatar a decisão da maioria. Há um compromisso com a instituição em que milita. Se ela viola seus princípios, resta-lhe apenas retirar-se.
Nas situações-limite, porém, essa regra se torna relativa. Ao intelectual, em particular, orgânico ou não, cabe estar sempre atento às questões de princípio. Se um partido nega um de seus esteios fundadores, não precisa abandoná-lo, desde que faça ouvir bem alto sua voz discordante.
Não há como transigir quando se trata de uma questão que diz respeito ao funcionamento da própria democracia, do direito de as minorias se manifestarem e lutarem por seus ideais.
Sabemos que não é o que está acontecendo em Cuba, na China e em outros lugares. Minha geração foi tomada de entusiasmo pela Revolução Cubana. Era um raio de sol na América Latina, quando predominavam as contrarrevoluções autoritárias. Entendemos a necessidade de Fidel se aproximar da União Soviética, diante da pressão americana, principalmente depois do embargo decretado.
Aceitamos, embora com relutância, o "paredón", o fuzilamento dos inimigos do regime. Há momentos em que a violência política se torna inevitável. Mas aos poucos fomos percebendo que a Revolução Cubana estava se degenerando.
Caricatura
Jean-Paul Sartre [1905-80] foi o primeiro intelectual conhecido a romper com Fidel. Depois se avolumaram as evidências de que o regime se tornava cada vez mais autoritário, reprimindo sem piedade qualquer manifestação oposicionista. Hoje a República cubana é uma caricatura do socialismo.
E o embargo americano que impede Cuba de se desenvolver? E as conquistas sociais, principalmente no campo da saúde, da educação e do esporte, que colocaram Cuba na modernidade?
Tudo isso continua sendo muito pertinente, mas não retira dos cubanos o direito de divergirem das políticas oficiais. Mais ainda, não abole a distinção entre o preso político, aquele que sofre punição por sua militância política, e o preso comum, que simplesmente transgride em prol de si mesmo ou de sua gangue.
As manifestações contra o regime cubano crescem dia a dia. Tudo indica que a repressão aumentará. Não podemos aceitar que os manifestantes sejam tratados como presos comuns. Mas, como sempre, o governo Lula dá uma no prego e outra na ferradura.
Desta vez, porém, a pancada na ferradura foi muito maior, porque ferrou qualquer adversário, negando seu estatuto de político, mesmo quando faz greve de fome para ser reconhecido como tal. Cabe então a nós, intelectuais brasileiros, denunciar essa violência, defender o direito e o espaço das oposições.
No entanto, muitos de nós simplesmente estão se furtando a tomar firme posição contra esse escândalo. Estão casados com os grupos de esquerda em que militam e comprometidos com a política do atual governo, mesmo quando ela nega princípios gerais que comandam os ideais democráticos.
Até o Cebrap
O maior argumento é que agora qualquer manifestação teria efeitos eleitorais. Mas o silêncio não tem o mesmo efeito? Interessante é que até mesmo o Cebrap, uma instituição que, durante a ditadura, não deixou de denunciar as violações dos direitos democráticos, hoje simplesmente está calado.
E, naqueles tempos, o efeito não era eleitoral, mas a porrada dos gendarmes do governo. Cabe refletir sobre o que está atualmente acontecendo no Brasil. Em particular a vida pública está perdendo qualquer dimensão normativa. Vale o pragmatismo mais estreito.
Importa ganhar as eleições, fazer um governo popular, não perturbar a onda de felicidade que nos cobre mansamente. Ainda que sejam adiadas decisões importantes que não caiam no gosto do público, que as próximas gerações paguem o preço de nossas conveniências.
Resulta daí que cada vez mais tendemos a nos tornar uma sociedade média, média, micha.
JOSÉ ARTHUR GIANNOTTI é professor emérito da USP e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Escreve na seção "Autores", do Mais! .
Labels:
Bolchevismo,
Cebrap,
Comunismo,
Cuba,
Democracia,
Esquerda,
Intelectuais,
José Arthur Giannotti,
Lula,
Partido Comunista
3.10.09
A ressurreição do apóstolo Paulo
Ao escrever o artigo que saiu hoje publicado na minha coluna da “Ilustrada”, da Folha de São Paulo, acabei por fazê-lo muito maior do que o espaço que me é reservado. Normalmente, quando isso acontece, edito o artigo, para que caiba no espaço disponível, sem perder o essencial do seu argumento. Foi o que tentei fazer com o artigo de hoje. Ao relê-lo no jornal, porém, achei que o resultado deixa a desejar: que carece de clareza e precisão. Por isso, excepcionalmente, publico aqui o artigo na sua versão – mais longa – original.
A ressurreição do apóstolo Paulo
HÁ POUCOS meses, o papa Bento 16 anunciou que haviam sido encontrados os restos mortais do apóstolo Paulo. Nesse ponto, Ratzinger estava atrasado. Em alguns círculos de esquerda, esse apóstolo já havia sido ressuscitado há algum tempo. Basta lembrar o livro de Alain Badiou, de 1997 ("São Paulo: a Fundação do Universalismo"), o de Giorgio Agamben, de 2000 ("O Tempo que Resta: Comentário à Carta aos Romanos"), a reedição, em 1993, do livro de Jacob Taubes ("A Teologia Política de Paulo") e as muitas páginas que Slavoj Zizek tem ultimamente dedicado a esse apóstolo (por exemplo, em "O Absoluto Frágil").
Ora, nenhum leitor das invectivas de Paulo contra a filosofia e a racionalidade (por exemplo, em 1Co 1:19-27 e 3:18-20, e Ro 1:21-22) pode ignorar que ele foi um dos fundadores do irracionalismo cristão. De fato, esses escritores me parecem ser atraídos exatamente pelo irracionalismo de Paulo. Por que?
Consideremos Badiou. Recentemente, ele tem escrito (por exemplo, na "Revista Piauí" de agosto de 2007), sobre a "hipótese comunista". Basicamente, esta consistiria na suposição de que seja possível eliminar a desigualdade das riquezas, a divisão de trabalho e o aparelho de Estado coercitivo, militar e policial, separado da sociedade civil.
Francamente, não sei se é mesmo possível eliminar a desigualdade ou o aparelho de Estado. Entretanto, Badiou diz também que essa "hipótese" é "uma ideia com função reguladora, e não um programa". Se isso significa que quem adota a "hipótese comunista" é aquele que orienta suas ações políticas no sentido de, entre outras coisas, promover a diminuição da desigualdade das riquezas, flexibilizar a divisão do trabalho e diminuir a necessidade do Estado coercitivo, então ela pode ser aceita por um reformista radical, como eu mesmo.
Badiou porém, longe de se considerar um reformista, pretende ser um revolucionário. Assim também creio serem quase todos os entusiastas da “hipótese comunista”. O que querem é uma revolução que, mais ou menos rapidamente, destrua o capitalismo e construa o comunismo, isto é, que rapidamente, como foi dito, elimine a desigualdade das riquezas, a divisão de trabalho e o aparelho de Estado coercitivo, militar e policial, separado da sociedade civil.
Entretanto, desconfio que nenhum desses revolucionários saberia dizer exatamente como se daria tal superação do capitalismo. Não ignoro que, se questionados, certamente falariam em “socialismo”. Concretamente, porém, que poderia significar para eles tal palavra?
Seu socialismo certamente nada teria a ver com a social-democracia, pois esta, sendo compatível com o capitalismo, não representa sua superação. Tratar-se-ia então do socialismo como a estatização dos meios de produção, tal como se proclamou, por exemplo, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas?
Será possível identificar a estatização com o socialismo? Friedrich Engels diria que não, pois afirmava que “quanto mais forças produtivas o Estado moderno passa a possuir, quanto mais se torna um capitalista total real, tantos mais cidadãos ele explora. Os trabalhadores continuam assalariados, proletários. Longe de ser superada, a relação capitalista chega ao auge”.
Para Engels, portanto, a propriedade estatal não era a solução. No máximo, ela podia ser usada como um meio para se chegar mais perto da solução. E qual seria essa, segundo ele? Que a sociedade, aberta e diretamente, tomasse posse das forças produtivas. Note-se bem: a propriedade estatal dos meios de produção, consistindo na manifestação extrema de uma relação de produção capitalista, está longe de ser a posse social dos mesmos.
Os revolucionários russos não pensaram assim. Tomando a estatização da economia sob a ditadura do Partido Comunista, pretenso representante do proletariado, como a constituição do “modo de produção socialista” (que seria o primeiro passo para o comunismo), supuseram que já haviam deixado para trás o modo de produção capitalista.
O fato, porém, é que a própria extinção da URSS e o caráter selvagem e mafioso do capitalismo que hoje vigora na Russia se encarregaram de desmentir essa pretensão. Em obra recente, Badiou comenta que “sob a forma do Partido-Estado, experimentou-se uma forma inédita de Estado autoritário e mesmo terrorista, de todo modo muito separado da vida das pessoas”. E conclui: “O princípio da estatização era em si mesmo viciado e por fim ineficaz. O exercício de uma violência policial extrema e sangrenta não conseguiu salvá-lo de sua inércia burocrática interna e, na competição feroz que lhe impuseram seus adversários, não foram precisos mais de cinquenta anos para mostrar que ele jamais venceria”.
A Revolução Cultural Chinesa é por Badiou entendida como uma tentativa de mobilizar as massas contra o estabelecimento de uma situação semelhante, na China. Seu líder, Mao Tse-tung, chegou a dizer: “Não se sabe onde está a burguesia? Mas ela está no Partido Comunista!” Como, porém, as “massas” são necessariamente plurais, particulares, instáveis e manobráveis, o fato é que, na época moderna, qualquer “democracia direta” não pode passar de uma quimera. Não admira, portanto, que a Revolução Cultural se tenha tornado extremamente caótica e violenta, de modo que, por fim, tenha sido necessário, como diz Badiou, “restabelecer a ordem nas piores condições”. O resultado é que impera hoje na China o mais brutal capitalismo, tanto estatal quanto privado.
A verdade é portanto que, como nem a centralização, sob a égide do Partido, nem a mobilização das massas logram superar o capitalismo, não se sabe – jamais se soube – como se daria tal superação.
Um famoso hino alemão oriental dizia: “Die Partei hat immer Recht”, isto é, "o Partido sempre está certo". Tal secularização do pensamento religioso constitui o ápice do irracionalismo e acabou por produzir incalculável sofrimento. As terríveis experiências do século 20 apenas confirmam empiricamente algo que, por direito, já se sabe desde a Ilustração: nem a Igreja, nem a Bíblia, nem o Partido, nem o líder genial, nem as massas, ninguém é capaz de sempre estar certo. Nada está acima de ser criticado. Por isso, a sociedade aberta, os direitos humanos, a livre expressão do pensamento, a maximização da liberdade individual compatível com a existência da sociedade, a autonomia da arte e da ciência etc. são exigências inegociáveis da crítica, isto é, da razão.
Ora, não há por que pensar que não seja possível, mesmo nos marcos de uma sociedade aberta, promover a diminuição da desigualdade das riquezas, flexibilizar a divisão do trabalho e diminuir a necessidade do Estado coercitivo. Uma das provas de que as coisas podem melhorar é hoje a própria experiência brasileira, nos últimos quinze anos de governos democráticos de esquerda.
Mas, naturalmente, os seguidores do apóstolo Paulo não pensam assim. Apesar de reconhecer que "o marxismo, o movimento operário, a democracia de massas, o leninismo, o Partido do proletariado, o Estado socialista, todas essas invenções notáveis do século 20 não nos são mais realmente úteis", Badiou prefere crer na Revolução do que na razão. Para ele, a Revolução Francesa abrira um primeiro período revolucionário; a Revolução Russa, um segundo. Aguardando o próximo, ele confessa: "Não estou em condições de dizer com certeza o que é a essência do terceiro período revolucionário que vai se abrir". Ele tem certeza de que ocorrerá algo decisivo no terceiro – note-se bem a mística do numero – período revolucionário, embora não saiba o que será. Em suma, adota um estilo escatológico, sem nada dizer. Por que isso?
Porque ele é “revolucionário”, ou melhor, apocalíptico. Badiou rejeita a democracia parlamentar porque quer rejeitar em bloco a sociedade aberta em que vive: “A hipótese comunista”, afirma, “não coincide de maneira nenhuma com a hipótese democrática”. Se como dissemos, a sociedade aberta é uma exigência inegociável da crítica, isto é, da razão, então, embora não o confesse literalmente, é a razão que, no fundo Badiou tenciona relativizar. “Há algo no devir de uma verdade”, afirma ele, “que ultrapassa as possibilidades estritas da mente humana”.
Aqui entra o apóstolo Paulo. Embora a racionalidade clássica considerasse irracionalistas as teses de Paulo, estas, segundo Badiou, constituíram um "acontecimento" que superou aquela, inaugurando um novo tipo de universalismo e de verdade. “Todo procedimento de verdade”, diz ele, “rompe com o princípio axiomático que governa a situação e organiza a sua série repetitiva. Um procedimento de verdade interrompe a repetição e não pode portanto ser sustentado pela permanência abstrata própria à unidade da conta, subtraída da conta”. Ou seja, o “procedimento de verdade” é incomensurável com o que, antes da sua instauração, passa por verdade.
Segundo Badiou, o conhecimento (savoir), pertencente à ordem do Ser, opõe-se à verdade, manifesta em acontecimentos que não pertencem à ordem do ser, mas surgem ex nihilo, à maneira de milagres. Para Slavoj Zizek, também entusiasta de Paulo, "Badiou está inteiramente justificado ao insistir que -- usando o termo com seu peso teológico integral -- milagres ocorrem sim". A verdade milagrosa é singular, pois não poder ser classificada em gênero nenhum; universal, pois ultrapassa todas as particularidades acessíveis ao conhecimento; e axiomática, pois transcende tudo o que pode ser provado ou demonstrado.
Badiou pensa que a verdade só é discernível pelos membros da nova comunidade de crentes. A rigor, ela não passa, portanto, de uma crença. Comentando -- e aprovando -- tais teses, Zizek especula que a verdadeira fidelidade ao acontecimento é 'dogmática' no sentido preciso de fé incondicional, de uma atitude que não procura boas razões e que, por essa razão mesma, não pode ser refutada por nenhuma 'argumentação'". Ora, ocorre que aquilo que não pode ser refutado por nenhum argumento é exatamente o irracional. Em suma, trata-se aqui do mais puro irracionalismo religioso.
De todo modo, podemos nos perguntar qual é o procedimento de verdade que autoriza Badiou a afirmar suas teses. Certamente não pode ser o que ainda não foi instaurado; e como poderia ser o que vigora contemporaneamente, se este é objeto constante do seu escárnio?
O fato é que – como aliás convém a quem, como bom discípulo de Paulo de Tarso, literalmente exalta as três virtudes teologais – Badiou sustenta suas teses exclusivamente na fé.
A ressurreição do apóstolo Paulo
HÁ POUCOS meses, o papa Bento 16 anunciou que haviam sido encontrados os restos mortais do apóstolo Paulo. Nesse ponto, Ratzinger estava atrasado. Em alguns círculos de esquerda, esse apóstolo já havia sido ressuscitado há algum tempo. Basta lembrar o livro de Alain Badiou, de 1997 ("São Paulo: a Fundação do Universalismo"), o de Giorgio Agamben, de 2000 ("O Tempo que Resta: Comentário à Carta aos Romanos"), a reedição, em 1993, do livro de Jacob Taubes ("A Teologia Política de Paulo") e as muitas páginas que Slavoj Zizek tem ultimamente dedicado a esse apóstolo (por exemplo, em "O Absoluto Frágil").
Ora, nenhum leitor das invectivas de Paulo contra a filosofia e a racionalidade (por exemplo, em 1Co 1:19-27 e 3:18-20, e Ro 1:21-22) pode ignorar que ele foi um dos fundadores do irracionalismo cristão. De fato, esses escritores me parecem ser atraídos exatamente pelo irracionalismo de Paulo. Por que?
Consideremos Badiou. Recentemente, ele tem escrito (por exemplo, na "Revista Piauí" de agosto de 2007), sobre a "hipótese comunista". Basicamente, esta consistiria na suposição de que seja possível eliminar a desigualdade das riquezas, a divisão de trabalho e o aparelho de Estado coercitivo, militar e policial, separado da sociedade civil.
Francamente, não sei se é mesmo possível eliminar a desigualdade ou o aparelho de Estado. Entretanto, Badiou diz também que essa "hipótese" é "uma ideia com função reguladora, e não um programa". Se isso significa que quem adota a "hipótese comunista" é aquele que orienta suas ações políticas no sentido de, entre outras coisas, promover a diminuição da desigualdade das riquezas, flexibilizar a divisão do trabalho e diminuir a necessidade do Estado coercitivo, então ela pode ser aceita por um reformista radical, como eu mesmo.
Badiou porém, longe de se considerar um reformista, pretende ser um revolucionário. Assim também creio serem quase todos os entusiastas da “hipótese comunista”. O que querem é uma revolução que, mais ou menos rapidamente, destrua o capitalismo e construa o comunismo, isto é, que rapidamente, como foi dito, elimine a desigualdade das riquezas, a divisão de trabalho e o aparelho de Estado coercitivo, militar e policial, separado da sociedade civil.
Entretanto, desconfio que nenhum desses revolucionários saberia dizer exatamente como se daria tal superação do capitalismo. Não ignoro que, se questionados, certamente falariam em “socialismo”. Concretamente, porém, que poderia significar para eles tal palavra?
Seu socialismo certamente nada teria a ver com a social-democracia, pois esta, sendo compatível com o capitalismo, não representa sua superação. Tratar-se-ia então do socialismo como a estatização dos meios de produção, tal como se proclamou, por exemplo, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas?
Será possível identificar a estatização com o socialismo? Friedrich Engels diria que não, pois afirmava que “quanto mais forças produtivas o Estado moderno passa a possuir, quanto mais se torna um capitalista total real, tantos mais cidadãos ele explora. Os trabalhadores continuam assalariados, proletários. Longe de ser superada, a relação capitalista chega ao auge”.
Para Engels, portanto, a propriedade estatal não era a solução. No máximo, ela podia ser usada como um meio para se chegar mais perto da solução. E qual seria essa, segundo ele? Que a sociedade, aberta e diretamente, tomasse posse das forças produtivas. Note-se bem: a propriedade estatal dos meios de produção, consistindo na manifestação extrema de uma relação de produção capitalista, está longe de ser a posse social dos mesmos.
Os revolucionários russos não pensaram assim. Tomando a estatização da economia sob a ditadura do Partido Comunista, pretenso representante do proletariado, como a constituição do “modo de produção socialista” (que seria o primeiro passo para o comunismo), supuseram que já haviam deixado para trás o modo de produção capitalista.
O fato, porém, é que a própria extinção da URSS e o caráter selvagem e mafioso do capitalismo que hoje vigora na Russia se encarregaram de desmentir essa pretensão. Em obra recente, Badiou comenta que “sob a forma do Partido-Estado, experimentou-se uma forma inédita de Estado autoritário e mesmo terrorista, de todo modo muito separado da vida das pessoas”. E conclui: “O princípio da estatização era em si mesmo viciado e por fim ineficaz. O exercício de uma violência policial extrema e sangrenta não conseguiu salvá-lo de sua inércia burocrática interna e, na competição feroz que lhe impuseram seus adversários, não foram precisos mais de cinquenta anos para mostrar que ele jamais venceria”.
A Revolução Cultural Chinesa é por Badiou entendida como uma tentativa de mobilizar as massas contra o estabelecimento de uma situação semelhante, na China. Seu líder, Mao Tse-tung, chegou a dizer: “Não se sabe onde está a burguesia? Mas ela está no Partido Comunista!” Como, porém, as “massas” são necessariamente plurais, particulares, instáveis e manobráveis, o fato é que, na época moderna, qualquer “democracia direta” não pode passar de uma quimera. Não admira, portanto, que a Revolução Cultural se tenha tornado extremamente caótica e violenta, de modo que, por fim, tenha sido necessário, como diz Badiou, “restabelecer a ordem nas piores condições”. O resultado é que impera hoje na China o mais brutal capitalismo, tanto estatal quanto privado.
A verdade é portanto que, como nem a centralização, sob a égide do Partido, nem a mobilização das massas logram superar o capitalismo, não se sabe – jamais se soube – como se daria tal superação.
Um famoso hino alemão oriental dizia: “Die Partei hat immer Recht”, isto é, "o Partido sempre está certo". Tal secularização do pensamento religioso constitui o ápice do irracionalismo e acabou por produzir incalculável sofrimento. As terríveis experiências do século 20 apenas confirmam empiricamente algo que, por direito, já se sabe desde a Ilustração: nem a Igreja, nem a Bíblia, nem o Partido, nem o líder genial, nem as massas, ninguém é capaz de sempre estar certo. Nada está acima de ser criticado. Por isso, a sociedade aberta, os direitos humanos, a livre expressão do pensamento, a maximização da liberdade individual compatível com a existência da sociedade, a autonomia da arte e da ciência etc. são exigências inegociáveis da crítica, isto é, da razão.
Ora, não há por que pensar que não seja possível, mesmo nos marcos de uma sociedade aberta, promover a diminuição da desigualdade das riquezas, flexibilizar a divisão do trabalho e diminuir a necessidade do Estado coercitivo. Uma das provas de que as coisas podem melhorar é hoje a própria experiência brasileira, nos últimos quinze anos de governos democráticos de esquerda.
Mas, naturalmente, os seguidores do apóstolo Paulo não pensam assim. Apesar de reconhecer que "o marxismo, o movimento operário, a democracia de massas, o leninismo, o Partido do proletariado, o Estado socialista, todas essas invenções notáveis do século 20 não nos são mais realmente úteis", Badiou prefere crer na Revolução do que na razão. Para ele, a Revolução Francesa abrira um primeiro período revolucionário; a Revolução Russa, um segundo. Aguardando o próximo, ele confessa: "Não estou em condições de dizer com certeza o que é a essência do terceiro período revolucionário que vai se abrir". Ele tem certeza de que ocorrerá algo decisivo no terceiro – note-se bem a mística do numero – período revolucionário, embora não saiba o que será. Em suma, adota um estilo escatológico, sem nada dizer. Por que isso?
Porque ele é “revolucionário”, ou melhor, apocalíptico. Badiou rejeita a democracia parlamentar porque quer rejeitar em bloco a sociedade aberta em que vive: “A hipótese comunista”, afirma, “não coincide de maneira nenhuma com a hipótese democrática”. Se como dissemos, a sociedade aberta é uma exigência inegociável da crítica, isto é, da razão, então, embora não o confesse literalmente, é a razão que, no fundo Badiou tenciona relativizar. “Há algo no devir de uma verdade”, afirma ele, “que ultrapassa as possibilidades estritas da mente humana”.
Aqui entra o apóstolo Paulo. Embora a racionalidade clássica considerasse irracionalistas as teses de Paulo, estas, segundo Badiou, constituíram um "acontecimento" que superou aquela, inaugurando um novo tipo de universalismo e de verdade. “Todo procedimento de verdade”, diz ele, “rompe com o princípio axiomático que governa a situação e organiza a sua série repetitiva. Um procedimento de verdade interrompe a repetição e não pode portanto ser sustentado pela permanência abstrata própria à unidade da conta, subtraída da conta”. Ou seja, o “procedimento de verdade” é incomensurável com o que, antes da sua instauração, passa por verdade.
Segundo Badiou, o conhecimento (savoir), pertencente à ordem do Ser, opõe-se à verdade, manifesta em acontecimentos que não pertencem à ordem do ser, mas surgem ex nihilo, à maneira de milagres. Para Slavoj Zizek, também entusiasta de Paulo, "Badiou está inteiramente justificado ao insistir que -- usando o termo com seu peso teológico integral -- milagres ocorrem sim". A verdade milagrosa é singular, pois não poder ser classificada em gênero nenhum; universal, pois ultrapassa todas as particularidades acessíveis ao conhecimento; e axiomática, pois transcende tudo o que pode ser provado ou demonstrado.
Badiou pensa que a verdade só é discernível pelos membros da nova comunidade de crentes. A rigor, ela não passa, portanto, de uma crença. Comentando -- e aprovando -- tais teses, Zizek especula que a verdadeira fidelidade ao acontecimento é 'dogmática' no sentido preciso de fé incondicional, de uma atitude que não procura boas razões e que, por essa razão mesma, não pode ser refutada por nenhuma 'argumentação'". Ora, ocorre que aquilo que não pode ser refutado por nenhum argumento é exatamente o irracional. Em suma, trata-se aqui do mais puro irracionalismo religioso.
De todo modo, podemos nos perguntar qual é o procedimento de verdade que autoriza Badiou a afirmar suas teses. Certamente não pode ser o que ainda não foi instaurado; e como poderia ser o que vigora contemporaneamente, se este é objeto constante do seu escárnio?
O fato é que – como aliás convém a quem, como bom discípulo de Paulo de Tarso, literalmente exalta as três virtudes teologais – Badiou sustenta suas teses exclusivamente na fé.
21.7.07
Comunidade e sociedade
Publico a seguir, com uma leve adaptação, uma seção do meu livro O mundo desde o fim:
§ 27: Gemeinschaft e Gesellschaft
Uma das mais importantes dicotomias sociológicas, estabelecida pelo sociólogo alemão Ferdinand Tönnies, é a que separa a Gemeinschaft, que podemos descrever como a comunidade fechada, e a Gesellschaft, que podemos descrever como a sociedade aberta. Doravante, usarei a palavra "sociedade" no lugar de Gesellschaft e "comunidade" no lugar de Gemeinschaft. Como se sabe, esta última consiste na associação em que se encontra uma espécie de "vontade natural", baseada numa articulação orgânica de seus membros. Tönnies dizia que na comunidade tende a predominar o sentimento de co-pertinência (Zusammengehörigkeitsgefühl), na base de uma concordância espontânea de pontos de vista, interesses e finalidades. Na sociedade, por outro lado, predomina a "vontade racional" ou o cálculo, baseado na mera agregação mecânica de seus membros. Entre os partícipes da sociedade, tendem a generalizar-se as relações competitivas ou contratuais, cada qual mantendo, à parte determinadas convenções explícitas, os seus próprio pontos de vista, interesses e finalidades. É costumário contrastar-se o individualismo típico da sociedade à solidariedade típica da comunidade. Tönnies não conseguia esconder sua simpatia pela última, e o próprio surgimento da sociologia pode ser entendido como uma crítica às pretensões iluministas a explicar a coletividade humana, inclusive a comunidade, a partir do contrato social, isto é, de uma categoria própria à sociedade, quando se supunha que na verdade esta deve ser tomada como derivada em relação àquela.
Tanto Max Weber em A Cidade quanto Marx e Engels em A Ideologia Alemã mostram que mesmo a cidade medieval já surge como uma espécie de sociedade. Pode dizer-se que a cidade é o berço da sociedade e, conseqüentemente, do declínio da comunidade. Se a grande família é o arquétipo da comunidade, a grande cidade é o arquétipo da sociedade. Conhece-se não só a nostalgia da comunidade do passado, mas também a nostalgia da comunidade do futuro, como a de Aragon:
“Ici j'ai tant rêvé marchant de l'avenir
Qu'il me semblait parfois de lui me souvenir.”
“[Aqui tanto sonhei, andando, com o futuro que parecia às vezes dele me lembrar]”
Não é à toa que a palavra "comunismo" é cognata de "comunidade". Esquemáticamente, a história é concebida por Marx e Engels como uma passagem da comunidade primitiva para a sociedade de classes e desta para a síntese comunista, que é a restauração da comunidade sobre a base material proporcionada pela sociedade. O horror ao individualismo burguês (a palavra vem de burgo, cidade) é o mesmo tanto em quem é nostálgico do passado quanto em quem é nostálgico do futuro. Na verdade, o verdadeiro objeto da nostalgia de ambos é a grande família.
Pode portanto dizer-se que é impossível apreciar a grande cidade sem apreciar ao menos algumas das qualidades associadas à sociedade, entre as quais o individualismo, as relações contratuais e impessoais, o grande mercado, o descaso pela tradição, a valorização das novidades, a secularidade, o cálculo etc. Para Tönnies, todos os valores geralmente tidos como positivos, tais como amor, lealdade, honra, amizade etc. são emanações da comunidade, que é a comunidade fechada. É sem dúvida isso que explica a ambivalência dos sentimentos dos admiradores das grandes cidades. Baudelaire é o protótipo deles quando, a propósito das gravuras de Méryon, fala da poesia e da solenidade natural de uma grande capital:
“As majestades da pedra acumulada, os campanários a apontar os dedos para o céu, os obeliscos da indústria a vomitar contra o firmamento suas coalições de fumaça, os prodigiosos andaimes dos monumentos em restauração, a aplicar sobre o corpo sólido da arquitetura sua arquitetura efêmera de uma beleza aracnídea e paradoxal, o céu brumoso, carregado de cólera e rancor, a profundidade das perspectivas aumentada pela lembrança dos dramas que contêm, nenhum dos elementos complexos de que se compõe o doloroso e glorioso décor da civilização é por elas esquecido”. [BAUDELAIRE, Ch. Oeuvres completes. Paris: Laffont, 1980, p.779.]
Se substituirmos os campanários por arranha-céus, poderemos pensar em Nova York ou São Paulo, no lugar de Paris. A majestade não é diminuida pela fumaça nem a solidez pela efemeridade nem o céu pela bruma carregada de cólera e rancor nem a glória pela dor: ao contrário, a profundidade das perspectivas é aumentada pela lembrança dos dramas que contém. Anuncia-se aqui a estética -- dramática e brumosa -- do sublime e do terrífico urbano, que se prolongaria até passar pelos Blade Runners de nossos dias.
Em A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Engels diz sobre Londres:
“A multidão das ruas já tem, por si só, algo de repugnante, que revolta a natureza humana. Essas centenas de milhares de pessoas, de todas as condições e de todas as classes, que se apertam e se empurram, não são todas elas seres humanos, possuindo as mesmas qualidades e capacidades e o mesmo interesse na busca da felicidade? E não devem finalmente buscar essa felicidade pelos mesmos meios e procedimentos? E no entanto essas pessoas se cruzam correndo, como se nada tivessem em comum, nada a fazer juntas; e no entanto a única convenção entre elas é o acordo tácito segundo o qual cada um mantém a sua direita na calçada, afim de que as duas correntes de multidão que se cruzam não se empatem mutuamente; e no entanto, não vem à mente de ninguém conceder ao outro ao menos um olhar. Essa indiferença brutal, esse isolamento insensível de cada indivíduo no seio de seus interesses particulares são tanto mais repugnantes e ferinos quanto maior é o número de indivíduos confinados num espaço reduzido. E mesmo se sabemos que esse isolamento do indivíduo, esse egoísmo estreito são em toda parte o princípio fundamental da sociedade atual, eles não se manifestam em nenhum lugar com uma impudência, uma segurança tão totais quanto aqui, precisamente, na multidão da grande cidade. A desagregação da humanidade em mônadas, cada uma das quais tem um princípio de vida particular, essa atomização do mundo é aqui levada ao extremo”. [ENGELS, F. "Die Lage der arbeitenden Klasse in England". In: INSTITUT FÜR MARXISMUS-LENINISMUS BEIM ZK DER SED (Org.). Marx Engels Werke. Vol.2. Berlin: Dietz, 1956, p.257]
Benjamin, que cita esse trecho, comenta que para Engels, vindo “de uma Alemanha provinciana, onde sem dúvida jamais conheceu a tentação de se perder numa onda humana”, [BENJAMIN, W. Charles Baudelaire. Paris: Payot, 1982.
faltava o savoir-faire e a nonchalance do flâneur. De qualquer maneira, a atitude de Engels lembra a de Disraeli em Sybil, que dizia que
“não há comunidade na Inglaterra; há agregação, mas agregação em circunstâncias que a tornam um princípio de dissociação, mais que de associação... É comunidade de propósito que constitui a sociedade... Sem isso, os homens podem ser trazidos à contigüidade mas continuam praticamente isolados. Nas grandes cidades, os homens são reunidos pelo desejo de ganho. No que toca a fazer fortunas, não se encontram em estado de cooperação, mas de isolamento; quanto a tudo o mais, pouco se importam com seus vizinhos. O Cristianismo nos ensina a amar nossos vizinhos como a nós mesmos; a sociedade moderna não reconhece vizinhos”. [Cit. p. NISBET, R. The Sociological Tradition. London: Heinemann, 1970, p. 52]
Não há comunidade na Inglaterra: não há comunidade na cidade. Voltando a Engels, é curioso que todas as suas restrições à metrópole digam respeito a pontos que um cosmopolita pode perfeitamente tomar como positivos. Na grande cidade reúnem-se, indiscriminadamente, pessoas de todas as condições e classes sociais? Mas, segundo Baudelaire, a paixão e a profissão do parfait flâneur é épouser la foule: "O amante da vida universal entra na multidão como num imenso reservatório de eletricidade". [BAUDELAIRE, Ch. Op. cit., p. 795]
As pessoas agem como se nada tivessem em comum, como se nada tivessem a fazer juntas? Mas é porque se livraram da tirania das expectativas e imposições de parentesco ou vizinhança. A simples propinqüidade física não lhes impondo mais intimidades não-eletivas, inevitáveis na sociedade, as pessoas são ao menos formalmente livres para escolher trabalhos, lazeres, amigos e amantes segundo vocação ou inclinação. Além disso, um dos prazeres da vida é justamente -- citando novamente Baudelaire -- o de estar no meio da multidão, sem nada a fazer:
“Estar fora de casa e no entanto se sentir em toda parte em casa: ver o mundo, estar no centro do mundo e continuar escondido do mundo, tais são alguns dos prazeres menores desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem só inadequadamente consegue definir”. [Ibid.]
Cada um cuida isolada e egoisticamente do seu próprio interesse? Mas Adam Smith mostrou que é assim que funciona a engrenagem econômica da sociedade, e o hedonista sabe que, desse modo, produtos e prazeres (e carências e dores) se diversificam ad infinitum:
“Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde”.
[“Vê nesses canais
Dormirem esses barcos
Cujo humor é vagabundo;
É por saciar
Teu mínimo desejo
Que vêm do fim do mundo.”]
Por falar nisso, a tese de Adam Smith é de modo geral entendida apenas como uma defesa da economia capitalista liberal. É claro que ela é isso mas, ao mostrar que o mercado basicamente dispensa a intervenção humana consciente, de modo que, segundo a expressão de Mandeville, vícios privados são compatíveis com benefícios públicos, ela também abre espaço para um individualismo radical. Pela primeira vez na história, não é possível invocar o bem comum para impor uniformidade comportamental ou ideológica. Para ser consistente, o laissez-faire deve estender-se também ao que os marxistas chamam de "superestrutura". É esse núcleo absolutamente anti-comunitário e quase anárquico do liberalismo que permite realizar a democracia liberal. Quanto maior a diversidade dos comportamentos e das idéias, mais se diversificam as demandas e as ofertas. Por isso estavam errados os discursos freudianos marxistas, como o de Reich ou de Cooper ou de Lang ou de Mitchell ou de grande parte do Woman's Lib dos anos 60, que julgavam, por exemplo, que entre as condições para a reprodução do capitalismo encontrava-se a compulsoriedade da família monogâmica. Não é verdade. Provou-o a prosperidade dos bairros gays de San Francisco, na época pré-aids. À son insu, Adam Smith permite-nos portanto explicar por que a repressão sexual se liga necessariamente às comunidades, não necessariamente às sociedades e, sobretudo, não às formas supremas de sociedades, que são as megalópoles.
Engels se queixava de que a única convenção entre as pessoas na cidade era o acordo tácito segundo o qual cada um mantinha a sua direita na calçada, afim de que as duas correntes de multidão que se cruzavam não se empatassem mutuamente. Mas precisamente na exclusividade dessa convenção se encontra o auge da civilização. Os regulamentos de trânsito consistem em convenções sistemáticas cuja função é compatibilizar formalmente a liberdade de locomoção de todas as pessoas, através da contenção da locomoção individual no interior dos limites de sua possível universalização. Trata-se da aplicação direta do princípio universal do direito à esfera da locomoção no espaço público. Todas as leis legítimas são baseadas nesse modelo.
Mas creio que já está claro o tipo de unholy alliance que se formou contra a sociedade aberta e moderna. Enquanto os apologistas do ancien régime tentavam desmoralizar não só a Revolução Francesa mas todo liberalismo, os revolucionários garantiam que, o ancien régime já tendo sido derrotado, a luta agora não era mais pela defesa do direito enquanto liberdade mas contra ele, na medida em que ele representava o triunfo do individualismo, inimigo do comunismo. O inimigo principal do revolucionário não eram mais as classes tradicionais e o caráter fechado e particular das antigas instituições e concepções do mundo. A concepção contra a qual ele lutava e que, em aliança com as classes tradicionais, buscava desmoralizar, era a da sociedade aberta que, antes mesmo de ser totalmente explicitada já era considerada "superada". O resultado é que, longe de experimentar as últimas consequências libertárias da abertura da sociedade, o mundo começou a sofrer uma restauração aristocratizante e religiosa da qual ainda hoje não se libertou.
"Há", diz com razão o historiador Arno Mayer,
“uma clara tendência a subestimar e a desvalorizar a capacidade de resistência das velhas forças e das velhas idéias, e sua habilidade para assimilar, atrazar, neutralisar e subjugar a modernização capitalista, inclusive a industrialização”. [MAYER, A. La Persistance de l'ancien regime. Paris: Flammarion, 1983, p. 12]
Assim, virou senso comum a crença de que a modernidade e a razão são "totalitárias" e de que já foram longe demais.
Fala-se por exemplo do caráter destrutivo da razão. O nosso tempo, em consequência de sua racionalidade exagerada, teria visto a destruição ou a morte do mito, da religião, da moral, da arte em geral e da pintura em particular, dos cânones etc. Que se quer dizer com isso? No que toca a religião, terão as igrejas sido incendiadas ou transformadas em museus, os padres executados e as freiras violentadas? Em alguns países coisas semelhantes de fato ocorreram. Mas nesses casos, diríamos sem dúvida que as pessoas, os partidos ou Estados que assim agiram o fizeram antes contra a razão -- por fanatismo religioso ou político -- do que em virtude de sua racionalidade. De maneira geral porém, nos países em que se costuma acusar a razão de ter sido mais destrutiva, porque mais presente -- na Europa Ocidental e nos Estados Unidos -- não tem havido perseguição significativa à religião. Ao contrário, pode dizer-se que todas as religiões têm conhecido uma liberdade exemplar. Nenhuma religião positiva devendo ser privilegiada pelo Estado laico, todas (como também a ausência de religião) são -- ou melhor, deveriam ser -- igualmente toleradas. Por que, então, a retórica sobre a destruição da religião? Porque no fundo o que se lamenta é justamente a liberdade indiscriminada das religiões. O que se lamenta é a perda do privilégio de determinada ou determinadas religiões em relação às demais e à irreligiosidade ou ao ateísmo. O que se lamenta, em outras palavras, não é que a religião esteja sendo destruída pela razão mas que determinadas religiões, bem como as heresias, a irreligiosidade, o ateísmo e os ateus, não estejam sendo destruídos ou perseguidos pelo Estado laicizado.
Mutatis mutandis, o que acabo de afirmar sobre a religião pode ser repetido sobre os demais itens culturais que se supõe estarem sendo destruídos pelo mundo moderno. No que toca à moral, por exemplo, racionalmente ninguém pode ser impedido de ter os princípios ou valores que queira, nem de se orientar ou de se comportar de acordo com eles, exceto na medida em que impeçam outros de desfrutarem da mesma liberdade. Racionalmente, o Estado não pode favorecer este ou aquele preceito, este ou aquele valor, sobre outros preceitos ou valores positivos, reais ou possíveis, que o contradigam. Assim, no Estado que se pretende racional, cada qual pode ter os valores morais que bem entender -- mesmo que inteiramente contrários aos da "maioria" -- desde que não firam as condições mínimas de possibilidade de haver sociedade. A bem da verdade é preciso dizer que os Estados positivos estão ainda longe de serem totalmente racionais nesse sentido. No entanto, eles já realizaram um grande progresso na direção da racionalidade, em comparação com os Estados reconhecidamente pré-modernos. De qualquer maneira, é evidente que quando alguém diz que a razão trouxe a destruição da moral, o que quer dizer é que os seus pontos de vista no que toca à moral deveriam ser defendidos contra os pontos de vista dos outros. O que está pedindo portanto é a destruição ou o aniquilamento dos princípios alheios.
Da mesma forma, fala-se muito da destruição ou da morte da arte. Os próprios artistas falam assim. Supõe-se obscuramente que os vírus da modernidade -- ou quem sabe simplesmente as forças do mercado -- estaria levando os artistas a aniquilarem a arte. No entanto, ninguém está destruindo as pinturas ou esculturas ou queimando os livros ou matando os artistas. Ao contrário, nunca houve tantos museus, galerias, escolas de arte, livros de arte, filmes sobre arte e artistas, conferências etc. Quem quer pintar, pinta: e mais gente do que nunca o faz. Quem quer pintar segundo técnicas tradicionais -- de qualquer tradição que queira, desde a têmpera medieval até pintura acrílica -- o faz; e nunca tantas técnicas de tantas tradições estiveram disponíveis a tanta gente, sem contar novas técnicas, que surgem todos os dias. Tudo é possível hoje em pintura. Os demais gêneros artísticos tradicionais não se encontram em situação diferente. Além disso, nada do que prentenda ser expressão artística é hoje descartado sumariamente. Tudo merece atenção, discussão, exposição. Por que então dizer que a arte foi ou está sendo destruida pela modernidade? Porque as formas e os gêneros tradicionais de se fazer arte não detêm mais monopólio algum; em outras palavras, porque as formas alternativas de se fazer arte não são mais perseguidas, proibidas ou destruídas. É isso que se lamenta.
CICERO, A. O mundo desde o fim. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995, p.151-166.
§ 27: Gemeinschaft e Gesellschaft
Uma das mais importantes dicotomias sociológicas, estabelecida pelo sociólogo alemão Ferdinand Tönnies, é a que separa a Gemeinschaft, que podemos descrever como a comunidade fechada, e a Gesellschaft, que podemos descrever como a sociedade aberta. Doravante, usarei a palavra "sociedade" no lugar de Gesellschaft e "comunidade" no lugar de Gemeinschaft. Como se sabe, esta última consiste na associação em que se encontra uma espécie de "vontade natural", baseada numa articulação orgânica de seus membros. Tönnies dizia que na comunidade tende a predominar o sentimento de co-pertinência (Zusammengehörigkeitsgefühl), na base de uma concordância espontânea de pontos de vista, interesses e finalidades. Na sociedade, por outro lado, predomina a "vontade racional" ou o cálculo, baseado na mera agregação mecânica de seus membros. Entre os partícipes da sociedade, tendem a generalizar-se as relações competitivas ou contratuais, cada qual mantendo, à parte determinadas convenções explícitas, os seus próprio pontos de vista, interesses e finalidades. É costumário contrastar-se o individualismo típico da sociedade à solidariedade típica da comunidade. Tönnies não conseguia esconder sua simpatia pela última, e o próprio surgimento da sociologia pode ser entendido como uma crítica às pretensões iluministas a explicar a coletividade humana, inclusive a comunidade, a partir do contrato social, isto é, de uma categoria própria à sociedade, quando se supunha que na verdade esta deve ser tomada como derivada em relação àquela.
Tanto Max Weber em A Cidade quanto Marx e Engels em A Ideologia Alemã mostram que mesmo a cidade medieval já surge como uma espécie de sociedade. Pode dizer-se que a cidade é o berço da sociedade e, conseqüentemente, do declínio da comunidade. Se a grande família é o arquétipo da comunidade, a grande cidade é o arquétipo da sociedade. Conhece-se não só a nostalgia da comunidade do passado, mas também a nostalgia da comunidade do futuro, como a de Aragon:
“Ici j'ai tant rêvé marchant de l'avenir
Qu'il me semblait parfois de lui me souvenir.”
“[Aqui tanto sonhei, andando, com o futuro que parecia às vezes dele me lembrar]”
Não é à toa que a palavra "comunismo" é cognata de "comunidade". Esquemáticamente, a história é concebida por Marx e Engels como uma passagem da comunidade primitiva para a sociedade de classes e desta para a síntese comunista, que é a restauração da comunidade sobre a base material proporcionada pela sociedade. O horror ao individualismo burguês (a palavra vem de burgo, cidade) é o mesmo tanto em quem é nostálgico do passado quanto em quem é nostálgico do futuro. Na verdade, o verdadeiro objeto da nostalgia de ambos é a grande família.
Pode portanto dizer-se que é impossível apreciar a grande cidade sem apreciar ao menos algumas das qualidades associadas à sociedade, entre as quais o individualismo, as relações contratuais e impessoais, o grande mercado, o descaso pela tradição, a valorização das novidades, a secularidade, o cálculo etc. Para Tönnies, todos os valores geralmente tidos como positivos, tais como amor, lealdade, honra, amizade etc. são emanações da comunidade, que é a comunidade fechada. É sem dúvida isso que explica a ambivalência dos sentimentos dos admiradores das grandes cidades. Baudelaire é o protótipo deles quando, a propósito das gravuras de Méryon, fala da poesia e da solenidade natural de uma grande capital:
“As majestades da pedra acumulada, os campanários a apontar os dedos para o céu, os obeliscos da indústria a vomitar contra o firmamento suas coalições de fumaça, os prodigiosos andaimes dos monumentos em restauração, a aplicar sobre o corpo sólido da arquitetura sua arquitetura efêmera de uma beleza aracnídea e paradoxal, o céu brumoso, carregado de cólera e rancor, a profundidade das perspectivas aumentada pela lembrança dos dramas que contêm, nenhum dos elementos complexos de que se compõe o doloroso e glorioso décor da civilização é por elas esquecido”. [BAUDELAIRE, Ch. Oeuvres completes. Paris: Laffont, 1980, p.779.]
Se substituirmos os campanários por arranha-céus, poderemos pensar em Nova York ou São Paulo, no lugar de Paris. A majestade não é diminuida pela fumaça nem a solidez pela efemeridade nem o céu pela bruma carregada de cólera e rancor nem a glória pela dor: ao contrário, a profundidade das perspectivas é aumentada pela lembrança dos dramas que contém. Anuncia-se aqui a estética -- dramática e brumosa -- do sublime e do terrífico urbano, que se prolongaria até passar pelos Blade Runners de nossos dias.
Em A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Engels diz sobre Londres:
“A multidão das ruas já tem, por si só, algo de repugnante, que revolta a natureza humana. Essas centenas de milhares de pessoas, de todas as condições e de todas as classes, que se apertam e se empurram, não são todas elas seres humanos, possuindo as mesmas qualidades e capacidades e o mesmo interesse na busca da felicidade? E não devem finalmente buscar essa felicidade pelos mesmos meios e procedimentos? E no entanto essas pessoas se cruzam correndo, como se nada tivessem em comum, nada a fazer juntas; e no entanto a única convenção entre elas é o acordo tácito segundo o qual cada um mantém a sua direita na calçada, afim de que as duas correntes de multidão que se cruzam não se empatem mutuamente; e no entanto, não vem à mente de ninguém conceder ao outro ao menos um olhar. Essa indiferença brutal, esse isolamento insensível de cada indivíduo no seio de seus interesses particulares são tanto mais repugnantes e ferinos quanto maior é o número de indivíduos confinados num espaço reduzido. E mesmo se sabemos que esse isolamento do indivíduo, esse egoísmo estreito são em toda parte o princípio fundamental da sociedade atual, eles não se manifestam em nenhum lugar com uma impudência, uma segurança tão totais quanto aqui, precisamente, na multidão da grande cidade. A desagregação da humanidade em mônadas, cada uma das quais tem um princípio de vida particular, essa atomização do mundo é aqui levada ao extremo”. [ENGELS, F. "Die Lage der arbeitenden Klasse in England". In: INSTITUT FÜR MARXISMUS-LENINISMUS BEIM ZK DER SED (Org.). Marx Engels Werke. Vol.2. Berlin: Dietz, 1956, p.257]
Benjamin, que cita esse trecho, comenta que para Engels, vindo “de uma Alemanha provinciana, onde sem dúvida jamais conheceu a tentação de se perder numa onda humana”, [BENJAMIN, W. Charles Baudelaire. Paris: Payot, 1982.
faltava o savoir-faire e a nonchalance do flâneur. De qualquer maneira, a atitude de Engels lembra a de Disraeli em Sybil, que dizia que
“não há comunidade na Inglaterra; há agregação, mas agregação em circunstâncias que a tornam um princípio de dissociação, mais que de associação... É comunidade de propósito que constitui a sociedade... Sem isso, os homens podem ser trazidos à contigüidade mas continuam praticamente isolados. Nas grandes cidades, os homens são reunidos pelo desejo de ganho. No que toca a fazer fortunas, não se encontram em estado de cooperação, mas de isolamento; quanto a tudo o mais, pouco se importam com seus vizinhos. O Cristianismo nos ensina a amar nossos vizinhos como a nós mesmos; a sociedade moderna não reconhece vizinhos”. [Cit. p. NISBET, R. The Sociological Tradition. London: Heinemann, 1970, p. 52]
Não há comunidade na Inglaterra: não há comunidade na cidade. Voltando a Engels, é curioso que todas as suas restrições à metrópole digam respeito a pontos que um cosmopolita pode perfeitamente tomar como positivos. Na grande cidade reúnem-se, indiscriminadamente, pessoas de todas as condições e classes sociais? Mas, segundo Baudelaire, a paixão e a profissão do parfait flâneur é épouser la foule: "O amante da vida universal entra na multidão como num imenso reservatório de eletricidade". [BAUDELAIRE, Ch. Op. cit., p. 795]
As pessoas agem como se nada tivessem em comum, como se nada tivessem a fazer juntas? Mas é porque se livraram da tirania das expectativas e imposições de parentesco ou vizinhança. A simples propinqüidade física não lhes impondo mais intimidades não-eletivas, inevitáveis na sociedade, as pessoas são ao menos formalmente livres para escolher trabalhos, lazeres, amigos e amantes segundo vocação ou inclinação. Além disso, um dos prazeres da vida é justamente -- citando novamente Baudelaire -- o de estar no meio da multidão, sem nada a fazer:
“Estar fora de casa e no entanto se sentir em toda parte em casa: ver o mundo, estar no centro do mundo e continuar escondido do mundo, tais são alguns dos prazeres menores desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem só inadequadamente consegue definir”. [Ibid.]
Cada um cuida isolada e egoisticamente do seu próprio interesse? Mas Adam Smith mostrou que é assim que funciona a engrenagem econômica da sociedade, e o hedonista sabe que, desse modo, produtos e prazeres (e carências e dores) se diversificam ad infinitum:
“Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde”.
[“Vê nesses canais
Dormirem esses barcos
Cujo humor é vagabundo;
É por saciar
Teu mínimo desejo
Que vêm do fim do mundo.”]
Por falar nisso, a tese de Adam Smith é de modo geral entendida apenas como uma defesa da economia capitalista liberal. É claro que ela é isso mas, ao mostrar que o mercado basicamente dispensa a intervenção humana consciente, de modo que, segundo a expressão de Mandeville, vícios privados são compatíveis com benefícios públicos, ela também abre espaço para um individualismo radical. Pela primeira vez na história, não é possível invocar o bem comum para impor uniformidade comportamental ou ideológica. Para ser consistente, o laissez-faire deve estender-se também ao que os marxistas chamam de "superestrutura". É esse núcleo absolutamente anti-comunitário e quase anárquico do liberalismo que permite realizar a democracia liberal. Quanto maior a diversidade dos comportamentos e das idéias, mais se diversificam as demandas e as ofertas. Por isso estavam errados os discursos freudianos marxistas, como o de Reich ou de Cooper ou de Lang ou de Mitchell ou de grande parte do Woman's Lib dos anos 60, que julgavam, por exemplo, que entre as condições para a reprodução do capitalismo encontrava-se a compulsoriedade da família monogâmica. Não é verdade. Provou-o a prosperidade dos bairros gays de San Francisco, na época pré-aids. À son insu, Adam Smith permite-nos portanto explicar por que a repressão sexual se liga necessariamente às comunidades, não necessariamente às sociedades e, sobretudo, não às formas supremas de sociedades, que são as megalópoles.
Engels se queixava de que a única convenção entre as pessoas na cidade era o acordo tácito segundo o qual cada um mantinha a sua direita na calçada, afim de que as duas correntes de multidão que se cruzavam não se empatassem mutuamente. Mas precisamente na exclusividade dessa convenção se encontra o auge da civilização. Os regulamentos de trânsito consistem em convenções sistemáticas cuja função é compatibilizar formalmente a liberdade de locomoção de todas as pessoas, através da contenção da locomoção individual no interior dos limites de sua possível universalização. Trata-se da aplicação direta do princípio universal do direito à esfera da locomoção no espaço público. Todas as leis legítimas são baseadas nesse modelo.
Mas creio que já está claro o tipo de unholy alliance que se formou contra a sociedade aberta e moderna. Enquanto os apologistas do ancien régime tentavam desmoralizar não só a Revolução Francesa mas todo liberalismo, os revolucionários garantiam que, o ancien régime já tendo sido derrotado, a luta agora não era mais pela defesa do direito enquanto liberdade mas contra ele, na medida em que ele representava o triunfo do individualismo, inimigo do comunismo. O inimigo principal do revolucionário não eram mais as classes tradicionais e o caráter fechado e particular das antigas instituições e concepções do mundo. A concepção contra a qual ele lutava e que, em aliança com as classes tradicionais, buscava desmoralizar, era a da sociedade aberta que, antes mesmo de ser totalmente explicitada já era considerada "superada". O resultado é que, longe de experimentar as últimas consequências libertárias da abertura da sociedade, o mundo começou a sofrer uma restauração aristocratizante e religiosa da qual ainda hoje não se libertou.
"Há", diz com razão o historiador Arno Mayer,
“uma clara tendência a subestimar e a desvalorizar a capacidade de resistência das velhas forças e das velhas idéias, e sua habilidade para assimilar, atrazar, neutralisar e subjugar a modernização capitalista, inclusive a industrialização”. [MAYER, A. La Persistance de l'ancien regime. Paris: Flammarion, 1983, p. 12]
Assim, virou senso comum a crença de que a modernidade e a razão são "totalitárias" e de que já foram longe demais.
Fala-se por exemplo do caráter destrutivo da razão. O nosso tempo, em consequência de sua racionalidade exagerada, teria visto a destruição ou a morte do mito, da religião, da moral, da arte em geral e da pintura em particular, dos cânones etc. Que se quer dizer com isso? No que toca a religião, terão as igrejas sido incendiadas ou transformadas em museus, os padres executados e as freiras violentadas? Em alguns países coisas semelhantes de fato ocorreram. Mas nesses casos, diríamos sem dúvida que as pessoas, os partidos ou Estados que assim agiram o fizeram antes contra a razão -- por fanatismo religioso ou político -- do que em virtude de sua racionalidade. De maneira geral porém, nos países em que se costuma acusar a razão de ter sido mais destrutiva, porque mais presente -- na Europa Ocidental e nos Estados Unidos -- não tem havido perseguição significativa à religião. Ao contrário, pode dizer-se que todas as religiões têm conhecido uma liberdade exemplar. Nenhuma religião positiva devendo ser privilegiada pelo Estado laico, todas (como também a ausência de religião) são -- ou melhor, deveriam ser -- igualmente toleradas. Por que, então, a retórica sobre a destruição da religião? Porque no fundo o que se lamenta é justamente a liberdade indiscriminada das religiões. O que se lamenta é a perda do privilégio de determinada ou determinadas religiões em relação às demais e à irreligiosidade ou ao ateísmo. O que se lamenta, em outras palavras, não é que a religião esteja sendo destruída pela razão mas que determinadas religiões, bem como as heresias, a irreligiosidade, o ateísmo e os ateus, não estejam sendo destruídos ou perseguidos pelo Estado laicizado.
Mutatis mutandis, o que acabo de afirmar sobre a religião pode ser repetido sobre os demais itens culturais que se supõe estarem sendo destruídos pelo mundo moderno. No que toca à moral, por exemplo, racionalmente ninguém pode ser impedido de ter os princípios ou valores que queira, nem de se orientar ou de se comportar de acordo com eles, exceto na medida em que impeçam outros de desfrutarem da mesma liberdade. Racionalmente, o Estado não pode favorecer este ou aquele preceito, este ou aquele valor, sobre outros preceitos ou valores positivos, reais ou possíveis, que o contradigam. Assim, no Estado que se pretende racional, cada qual pode ter os valores morais que bem entender -- mesmo que inteiramente contrários aos da "maioria" -- desde que não firam as condições mínimas de possibilidade de haver sociedade. A bem da verdade é preciso dizer que os Estados positivos estão ainda longe de serem totalmente racionais nesse sentido. No entanto, eles já realizaram um grande progresso na direção da racionalidade, em comparação com os Estados reconhecidamente pré-modernos. De qualquer maneira, é evidente que quando alguém diz que a razão trouxe a destruição da moral, o que quer dizer é que os seus pontos de vista no que toca à moral deveriam ser defendidos contra os pontos de vista dos outros. O que está pedindo portanto é a destruição ou o aniquilamento dos princípios alheios.
Da mesma forma, fala-se muito da destruição ou da morte da arte. Os próprios artistas falam assim. Supõe-se obscuramente que os vírus da modernidade -- ou quem sabe simplesmente as forças do mercado -- estaria levando os artistas a aniquilarem a arte. No entanto, ninguém está destruindo as pinturas ou esculturas ou queimando os livros ou matando os artistas. Ao contrário, nunca houve tantos museus, galerias, escolas de arte, livros de arte, filmes sobre arte e artistas, conferências etc. Quem quer pintar, pinta: e mais gente do que nunca o faz. Quem quer pintar segundo técnicas tradicionais -- de qualquer tradição que queira, desde a têmpera medieval até pintura acrílica -- o faz; e nunca tantas técnicas de tantas tradições estiveram disponíveis a tanta gente, sem contar novas técnicas, que surgem todos os dias. Tudo é possível hoje em pintura. Os demais gêneros artísticos tradicionais não se encontram em situação diferente. Além disso, nada do que prentenda ser expressão artística é hoje descartado sumariamente. Tudo merece atenção, discussão, exposição. Por que então dizer que a arte foi ou está sendo destruida pela modernidade? Porque as formas e os gêneros tradicionais de se fazer arte não detêm mais monopólio algum; em outras palavras, porque as formas alternativas de se fazer arte não são mais perseguidas, proibidas ou destruídas. É isso que se lamenta.
CICERO, A. O mundo desde o fim. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995, p.151-166.
Labels:
Adam Smith,
Arno Mayer,
Arte,
Cidade,
Comunidade,
Comunismo,
Engels,
Filosofia,
Individualismo,
Religião,
Sociedade,
Walter Benjamin
Assinar:
Postagens (Atom)